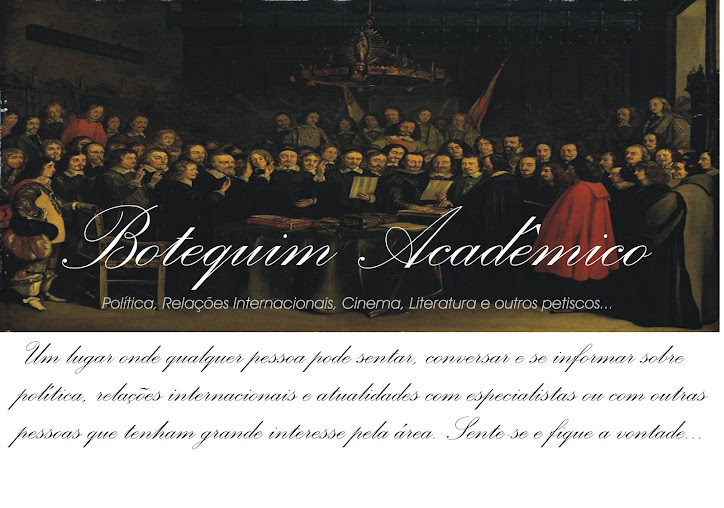Como todo bom Botequim, todos têm voz na conversa. Abaixo post enviado por Moara Crivelente.
Moara Crivelente é estudante do curso de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A política de condicionalidades para o apoio ao desenvolvimento, na maior parte dos países em que foi aplicada, vem comprovando a sua eficácia relativa ou, pior, a geral ausência de bons resultados tanto no sentido do desenvolvimento real e quanto apenas do crescimento econômico, o que parece ser o foco principal e muitas vezes o fim das políticas de ajuda externa neste âmbito.
A Primeira Geração de condicionalidades baseia-se apenas em pressupostos liberais de abertura de mercado, liberalização do comércio, retirada do Estado das ações econômicas, altas taxas de juros, dívidas infindáveis, privatizações em massa, menores gastos públicos, etc. A principal expressão disso era a política do Banco Mundial, na década de 1980, de colocar como condição aos seus prestamos ajustes setoriais e mesmo estruturais, sendo grande parte dos fundos emprestados direcionados a este fim.
Já na Segunda Geração de condicionalidades, com uma revisão de consciência acerca dos Direitos Humanos, democracia ou mesmo corrupção, decorrem-se interferências em assuntos políticos, estabelecendo-se um modelo de “boa governação”, que promoveria a democracia sobretudo para menor atuação do Estado em assuntos econômicos, e reveria em certa medida a posição sobre as políticas sociais. Mantém-se, todavia, do paradigma neoliberal em que se baseia o sistema econômico dos principais Estados doadores.
Segundo o Relatório sobre a Pobreza da OXFAM (1995), o modelo liberal continua em vigor, já que os doadores usariam os Programas de Ajustamento Estrutural para “obrigar governos a imporem taxas a serviços básicos como a educação primária, o acesso à saúde, a desvalorizarem a moeda nacional, a estabelecerem taxas de juros ditadas pelo FMI, a realizarem privatizações e liberalização dos mercados…” (tradução da autora). Isto tudo mesmo com a crescente constatação do erro na visão do Sul como uma entidade uniforme.
O incumprimento das condicionalidades impostas pelos doadores têm várias exemplificações, entre elas o caso de países como Zimbábue que, mesmo com constantes violações de Direitos Humanos, negação do direito ao desenvolvimento, direitos políticos, etc, continua recebendo apoio financeiro direto através do governo. Nem mesmo soluções como as smart sanctions – que afetam diretamente os responsáveis por essas violações e não a população de forma geral – foram ainda implementadas.
As sanções gerais poriam em causa a continuidade da entrada de fundos que garantiriam o pagamento da dívida e a manutenção das trocas comerciais com vantagens, colocando em risco a relação alcançada entre doadores e recipientes tanto em termos políticos como econômicos.
Por outro lado, a grande maioria dos países Africanos e alguns da América Latina, além de afundados em dívidas externas, seguem com baixo Índice de Desenvolvimento Humano e alto Índice de Pobreza Humana, mesmo depois de décadas seguingo planos estrangeiros de apoio ao desenvolvimento. Exemplos disso podem ser observados em dados do próprio Banco Mundial, que demonstra o declínio sofrido por países da América Latina e África que cumpriram as condições que lhes foram colocadas (2005).
Segundo mesmos dados do Banco Mundial, entre 1990 e 1993, mais de 13.4 biliões de dólares foram transferidos de África para seus credores, quatro vezes mais do que o gasto em saúde e educação juntas. E ainda assim, o pagamento da dívida não estaria seguindo as metas estabelecidas.
Para exemplificação, além de tudo, da manutenção dos modelos de condicionalidade, dois dos focos dados no “Guia de implementação da Boa Governação” do Governo Australiano (2000) referente à economia são a dinamização do setor privado, a economia aberta baseada no mercado e a implementação de normas sociais que respeitem o direito de propriedade para o funcionamento dos mercados. Ainda, a Agenda de Doha para o Desenvolvimento (Julho/2008) apresenta princípios como “apoio para o comércio”, ainda baseada na abertura do comércio, redução do nível máximo de proteção e redução do apoio doméstico à agricultura. Além disso, os credores estão envolvidos de forma demasiadamente intrusiva nesses países em nome da “eficiência da ajuda”.
Ravi Kanbur (2000) cita análises que concluem não haver ligação entre a entrada de apoio financeiro e o crescimento de indicadores de desenvolvimento per capita. As premissas são as relações entre apoio financeiro, crescimento e “um bom quadro de políticas macroeconómicas”. Segundo Bunside, citado por Kanbur, a conclusão está nessas relações, já que o apoio financeiro não iria para países com o requerido “bom quadro de políticas”, e no fato de que este apoio financeiro tampouco induz a esses quadros.
Através dessas análises evidencia-se o fato de que os condicionalismos hoje seguem os mesmos padrões liberais já criticados. A “Segunda Geração” de condições compõe-se apenas distrações às críticas contra o enfoque excessivo, sem bases e comprovadamente ineficaz no crescimento econômico para direcionamento geral ao desenvolvimento, cuja esfera de justiça social fica declaradamente para “longo-termo”.
Ao invés de abranger-se os condicionalismos, o que deveria ser aperfeiçoado é o estímulo à justiça no que se trata de crimes como a violação dos direitos humanos – não esquecendo, é claro, direitos económicos, sociais e culturais e o direito ao desenvolvimento – através de mecanismos regionais já existentes, como no caso da Comissão Africana para os Direitos Humanos, a OEA, ou, no caso da Ásia, que ainda não possui um mecanismo regional para o assunto, através do próprio Conselho para os Direitos Humanos das Nações Unidas, cessando as intervenções externas bilaterais, em sua maioria inquisitórias.
O desenvolvimento interno de políticas públicas mais eficazes deveria ser substituído pelas imposições externas vigentes de reformas e aberturas económicas maioritariamente insustentáveis. Novas formas de cooperação devem ser desenvolvidas de forma mais abrangente, horizontal e prática, reconhecendo-se a responsabilidade de toda a comunidade internacional por extremos de subdesenvolvimento presentes em diferentes cenários, tanto de “Sul” quanto de “Norte”.
Fontes:
Commonwealth of Australia – Good Governance Guiding Principles for Implementation. Canberra: Australian Agency for International Development, 2000. ISBN 0 642 44945 7
Gillespine, Alexander – The illusion of progress: unsustainable development in international law and policy. London: Earthscan Publications, 2001. ISBN 1 85383 757 1
Kanbur, Ravi – “Aid, Conditionality and Debt in Africa” in Finn Tarp (ed) Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions for the Future. London: Routledge, 2000.
Stokke, Olav – Aid and Political Conditionality. London: Frank Cass, 1995. (pp.1-87)
The Doha Development Agenda (2008). Disponível em http://www.worldbank.org/ , consultada em 25 de Outubro de 2008.
World Bank Institute (2008) – Governance Matters: Worldwide Governance Indicators 1996-2007.